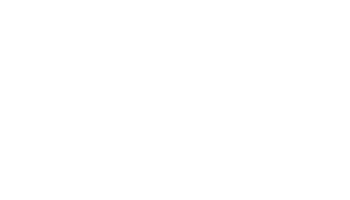Com a ascensão de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, um rompimento explícito com a ordem econômica global estabelecida a partir da década de 1990 foi deflagrado, contra a então predominância do globalismo. Com isso, houve um rompimento nos mercados abertos, nas cadeias produtivas transnacionais, na livre circulação de capitais e a busca de organismos multilaterais como a OMC, o FMI e o Banco Mundial como instâncias reguladoras. O que estamos assistindo é uma revolução não só nos Estados Unidos, como no restante do mundo. Trump, desde a campanha de 2016, apostou em uma visão de geoeconomia soberanista, baseada na lógica do “America First”. Essa linha, como não podia deixar de acontecer, rompeu com a ortodoxia liberal internacionalista dos próprios republicanos e democratas tradicionais, produzindo impactos profundos em todo o sistema então vigente.
A começar pela guerra comercial com a China, com as tarifas impostas por Trump em 2018, abrindo uma nova fase de rivalidade econômica, onde a interdependência passou a ser vista não como segurança, mas como vulnerabilidade estratégica. Esse movimento levou a uma fragmentação nas cadeias globais de suprimentos, acelerando a busca pelos chamados reshoring (trazer indústrias de volta ao território nacional) e nearshoring (aproximação da produção em países vizinhos, como o México).
A administração Trump provocou também uma erosão do multilateralismo, enfraquecendo, por tabela, o papel da OMC, ao bloquear indicações para seu órgão de apelação, pressionando, ainda, aliados europeus a aumentarem gastos militares sob ameaça de sanções comerciais, além de questionar abertamente as alianças como a Otan sob a ótica custo-benefício. Com essas medidas, a economia mundial deixou de ter os EUA como líder previsível do “consenso globalista” e passou a lidar com uma potência mais transacional e pragmática. Afinal, já era tempo.
O resultado foi a elaboração de uma nova lógica de alianças. Em vez de defender a universalidade do livre comércio, os EUA passaram a firmar acordos bilaterais vantajosos, como renegociações com o México e o Canadá (USMCA, substituto do Nafta), em que garantiram melhores condições para a indústria americana. Isso, obviamente, mudou a lógica do comércio internacional, estimulando outros países a pensarem em termos de blocos fechados ou pactos estratégicos seletivos.
É o mundo se reciclando. O impacto sobre a antiga ordem globalista foi e está sendo fatal. O globalismo, baseado na ideia de um mercado único e interdependente, perdeu vigor. A pandemia de covid-19 e, depois, a guerra na Ucrânia apenas reforçaram essa tendência de desconfiar das cadeias longas de suprimento e buscar autonomia estratégica. Hoje, governos em várias partes do mundo começam a aplicar as políticas protecionistas propostas por Trump, sobretudo no setor tecnológico e energético. A rearrumação da economia em escala global, segue a todo o vapor dentro agora dos princípios da geoeconomia — ou seja, abarcando não só os aspectos espaciais da economia, mas também os aspectos temporais e políticos, sempre de olho nos recursos.
O que estamos assistindo é a uma inter-relação entre economia, geografia e política. Fosse lida nas entrelinhas, a carta endereçada por Trump ao governo brasileiro já seria necessária para uma mudança de rumos no cenário nacional, evitando, ao máximo, a geração de conflitos de ordem ideológica com o governo americano. O Brasil, ao longo das últimas décadas, oscilou entre o entusiasmo globalista e a retórica ideológica. O problema é que, ao permanecer preso a narrativas antiquadas de um comunismo ultrapassado e a disputas políticas internas, perdeu capacidade de reposicionamento no cenário internacional. Com isso, as consequências não poderiam ser outras daquelas que agora vemos. A começar pela perda de protagonismo comercial: enquanto México e países do Sudeste Asiático se beneficiam do “desvio de comércio” provocado pela guerra EUA-China, o Brasil segue grudado em debates ideológicos e a uma excessiva dependência da exportação de commodities.
O próprio Brics se constitui neste momento como uma espécie de amarras para nosso país. O que se vê, logo de saída, é a dificuldade de integração a novas cadeias produtivas: a indústria brasileira não conseguiu atrair investimentos estratégicos em semicondutores, baterias, inteligência artificial e biotecnologia, setores centrais da nova geoeconomia. Também se vê apego a modelos ultrapassados: parte da elite política e intelectual insiste em discursos de luta de classes e narrativas anti-imperialistas do século 20, enquanto o mundo caminha para um realismo geoeconômico pragmático, em que países buscam soberania produtiva e alianças flexíveis.
Dessa forma, o risco de irrelevância estratégica desponta no horizonte. Sem uma política externa clara que saiba negociar com EUA, China e Europa ao mesmo tempo, o Brasil corre o risco de permanecer apenas como fornecedor de produtos primários, sem influência real nos novos arranjos globais. É o prolongamento de um subdesenvolvimento crônico, atado a políticas anacrônicas. Em vez de se adaptar a essa nova lógica de pragmatismo econômico, o Brasil ignora a oportunidade de sua inserção soberana e competitiva nessa nova ordem que parece ter vindo para ficar. É uma pena.