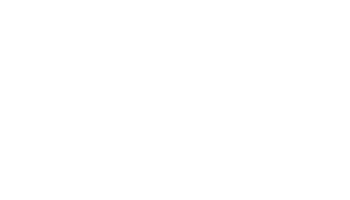Em matéria tributária, o paradoxo brasileiro é tão evidente que quase já não causa estranhamento. A recente atualização da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, apresentada como medida de alívio às camadas de menor renda, repete um enredo conhecido: na prática, mantém privilégios para os mais ricos e pouco altera a desigualdade estrutural.
Em 2024, a carga tributária bruta brasileira alcançou 32,32% do Produto Interno Bruto, segundo dados do Tesouro Nacional. O número coloca o país entre os que mais tributam no mundo, em patamar semelhante ao de economias desenvolvidas, mas sem a correspondente qualidade nos serviços públicos. O paradoxo se agrava quando se observa que, apesar da pesada arrecadação, o Brasil ocupa a pior posição no ranking do Estudo IRBES 2023 — que avaliou o retorno social dos tributos entre os 30 países com maior carga tributária. Na prática, cobra-se como país rico e devolve-se como nação pobre.
Cotidianamente a percepção dessa contradição explica a disseminação da chamada cultura do escapismo fiscal. O contribuinte médio, consciente de seu esforço, sabe que não terá acesso a hospitais adequados, escolas dignas ou transporte decente, e a partir daí o problema não se resume apenas à evasão. A maior distorção está no próprio desenho da tributação, que isenta lucros e dividendos e concentra o peso sobre salários. De acordo com estudos oficiais, para cada real pago em imposto pelos mais ricos, outros dois reais permanecem intocados em rendimentos não tributáveis.
Em contrapartida, trabalhadores que recebem entre um e dois salários mínimos veem, para cada real isento, outros R$ 7,60 confiscados na fonte ou na declaração. Nesse contexto, as promessas de campanha que ampliam gastos públicos apenas reforçam a engrenagem do desequilíbrio. A multiplicação de ministérios, a manutenção de programas sem fonte de custeio e a ampliação de benefícios sociais sem a correspondente base arrecadatória aumentam a pressão sobre o orçamento. O Tesouro Nacional informou que a dívida bruta já supera 75% do PIB, percentual elevado para uma economia emergente. Alguém inevitavelmente terá de pagar essa conta, e a história mostra que a fatura recai quase sempre sobre a classe média e os trabalhadores formais.
Há, ademais, o problema da opacidade fiscal. Apesar das normas de transparência, a execução orçamentária continua marcada por manobras, apelidadas de “pedaladas” quando ganharam notoriedade política. O mecanismo de mascarar resultados, embora duramente criticado, ainda resiste sob novas roupagens. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a própria complexidade do sistema custa às empresas cerca de R$ 60 bilhões anuais apenas em horas destinadas ao cumprimento de obrigações acessórias. É um peso que desestimula investimentos e corrói a competitividade.
O Projeto de Lei nº 1.087/2025, atualmente em tramitação no Congresso, tenta alterar esse quadro. A proposta prevê isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês, redução de alíquotas até R$ 7 mil e, sobretudo, a criação de um imposto mínimo sobre super-ricos. Estudo do Ministério da Fazenda indica que a medida poderia elevar em até 45% a tributação sobre o 0,01% mais rico da população, corrigindo uma distorção histórica. Além disso, a desigualdade medida pelo Índice de Gini cairia de 0,6185 para 0,6178, e a progressividade do sistema aumentaria em 30%. Ainda que modestos, são efeitos concretos na busca por maior justiça fiscal.
Na tabela já definida para 2025/2026, a faixa de isenção foi ampliada para R$ 27.110,40 anuais, com alíquotas progressivas que chegam a 27,5% para rendimentos acima de R$ 55.976,16. Embora o avanço represente alívio pontual, não enfrenta a raiz da desigualdade: a ausência de tributação sobre grandes fortunas, lucros e dividendos. Sem essa correção, o discurso de justiça tributária permanece mais retórico do que efetivo.
Imposto, em qualquer tempo histórico, foi percebido como imposição. A diferença está no que o Estado devolve à sociedade. Países que alcançaram equilíbrio social transformaram tributos em serviços públicos de qualidade, entendendo a arrecadação como pacto coletivo. No Brasil, o pacto está rompido. Cidadãos pagam muito, recebem pouco e ainda convivem com o espetáculo de desperdícios e privilégios. O contribuinte comum não se recusa a colaborar, mas cobra transparência, eficiência e retorno, no mínimo.
A cada nova eleição, renova-se a promessa de alívio. Contudo, o que se observa é a repetição de práticas que oneram quem menos pode e preservam quem mais acumula. Sem coragem política para rever isenções, simplificar o sistema e combater o desperdício, o país continuará condenado a viver sob o signo do paradoxo: tributa como nação rica, devolve como sociedade pobre, e perpetua a desigualdade que promete combater.