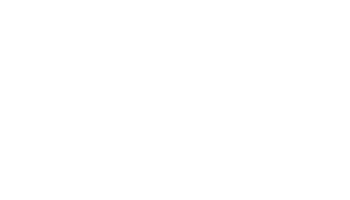Por: Vanessa de Aquino - Correio Braziliense
Aos 61 anos, o artista plástico Paulinho Andrade não cansa de buscar desafios. Representante de uma geração que transpirava arte e aprendeu a respingá-la pela cidade — com intervenções culturais, como o Concerto Cabeças —, ele acredita que cultura é necessidade básica, tal qual a água e a comida. Arte, para ele, é uma forma de representar as próprias experiências com o mundo. Não se calou nem mesmo quando perdeu a esposa para o câncer, em 2010. Transformou o sofrimento em série de pinturas e desenhos que pretende expor ainda neste ano. Ao Correio, Paulinho fala sobre essas experiências e sobre os novos tempos de Brasília.
Como descreve sua relação com a cidade?
Estive em Brasília, pela primeira vez, em 1969. Minha família é de Minas, vim do Rio de Janeiro com a família para conhecer a cidade. Mas a sensação não foi muito boa. Foi muito estranho porque estávamos embaixo de uma ditadura militar e a sensação era de que isso aqui era o último fortim do regime que ia cair. Mas havia algo de que eu gostava muito: a Biblioteca da Universidade de Brasília, que ficava aberta 24 horas por dia. Isso era muito bom, porque havia poucos cinemas e eu passei uns 10 dias na biblioteca, adorei. Em 1977, eu fiz uns amigos aqui que foram ao Rio e, como a situação estava ficando muito difícil para mim por lá, decidi vir para Brasília e ficar dentro do último fortim da ditadura. Pensei que aqui eles não iam se preocupar comigo, não iam me encher o saco e eu ficaria quieto (risos). Então, descobri uma cidade completamente diferente daquilo que eu imaginava. Era uma cidade fantástica. Não tinha o mar, mas possuía um céu maravilhoso, onde era possível viajar. A gente viaja no céu de Brasília.
E o que é Brasília para você?
Brasília é a cidade que me deu régua e compasso. Aqui, eu aprendi a ter relação profissional com meu trabalho. Tive grandes prazeres com a cidade em relação aos amigos. A gente faz amigos em Brasília de uma maneira diferente. Não era uma cidade muito grande e isso favorecia muito as relações pessoais. Nunca me senti sozinho aqui. Quando desejo, fico sozinho e Brasília também permite isso. A gente consegue se isolar dentro da cidade de uma maneira muito engraçada porque é possível ficar sozinho no meio do Plano Piloto, não precisa ir para longe.
Essas características da cidade influenciam seu trabalho?
Sim. Meu trabalho é muito influenciado por Brasília. Por exemplo, fiz uma caixa com gravuras, um projeto de um livro, que foi para uma feira de arte internacional de livros de arte no Moma, em Nova York. É um trabalho que fala sobre Brasília, que eu fiz há 30 anos e estou atualizando. Quero publicar 22 gravuras no ano que vem. Estou em busca de patrocínio. São imagens de índios em Brasília…
De onde veio a ideia?
É uma história muito interessante. Eu trabalhava em jornal, morava na 312 Norte, e havia um antropólogo da Funai no quinto andar. Em uma sexta-feira, destas que a gente fica até tarde para fechar o jornal de domingo, abri a porta do elevador e encontrei dois índios, armados de borduna e arco e flecha. Isso é uma síntese de Brasília, a modernidade com esta coisa ancestral, atávica. E os caras não falavam nada, provavelmente não dominavam o português. Perguntei se eles iriam à casa do antropólogo e, pelos olhares, entendi que sim. Fiquei quieto, mas o elevador não se mexeu. Ou eles não sabiam onde era ou não sabiam usar elevador. Apertei o número do andar e a gente seguiu. Foram 20 segundos que fiquei ali observando eles olharem para o infinito da porta do elevador (risos). Foi uma das experiências mais fantásticas que tive em Brasília.
E deu origem a esse trabalho?
Sim, resultou nesse trabalho. Era uma colagem de cartões-postais que eu fazia na época. Brasília era uma cidade vazia e a gente comprava muitos cartões-postais da cidade. E, agora, com essa série de 12 gravuras originais, estou fazendo uma revisão do trabalho porque quero fazer esse livro, como uma homenagem à cidade. Chama-se O eterno retorno — uma leitura de Nietzsche no Planalto Central.
Como se enturmou com os artistas brasilienses?
Quando eu cheguei aqui, em 1977, a gente via a primeira geração de Brasília nascendo e pensando de um jeito completamente diferente. Mesmo com a repressão da ditadura, era diferente nascer e crescer em Brasília porque a gente tinha a capacidade de pensar a cidade em 180°, tudo era muito amplo. Acho que a primeira geração é reflexo disso. Foi quando veio o Concerto Cabeças, por exemplo, do qual participei ativamente. E eu frequentava as oficinas com Wagner Hermuche, Eurico Rocha, Nicolas Behr, Luis Turiba. Foi uma experiência fantástica porque a gente mexia com toda a cidade.
De que maneira?
Começamos com concertos na 311 Sul, no gramado da quadra comercial para os blocos residenciais. Isso atraiu muita gente porque havia uma carência grande e nada acontecia. E vinha gente de Brasília inteira, das cidades-satélites. Era uma coisa maravilhosa porque a gente juntava músicos com formação clássica da UnB e da Escola de Música de Brasília com o pessoal do rock, do jazz, todos os estilos estavam representados. O Concerto Cabeças durou uns três anos e foi magnífico em termos de identificação da cidade por conta da explosão das primeiras gerações de Brasília. A gente chegou a fazer um concerto para 8 mil pessoas, na Concha Acústica do Parque da Cidade, que hoje nem existe mais. Isso foi um grande incentivo para o rock de Brasília.
A identidade da cidade era mais consistente que hoje?
Ela ainda existe, mas foi um pouco apagada pelas invasões a que fomos submetidos nos governos que considero não democráticos, como o do Roriz, por exemplo. Foi uma coisa horrorosa, deixou a cidade sem infraestrutura e sem emprego. Traziam eleitores sem oferecer condições de vida. Isso deturpou muito a cidade. Hoje, a gente tem uma cidade com uma cultura própria, mas, lamentavelmente, tudo o que a gente vê, fora um núcleo que ainda resiste, é de uma indigência cultural muito grande. Uma classe média muito estranha acabou se firmando em Brasília. Contudo, tem coisas muito legais acontecendo na cidade. Uma delas são as hortas comunitárias, que juntam o prazer de produzir alguma coisa que se coma com o prazer da cultura. A proposta é chamar um músico, uma banda para tocar no dia de plantar uma semente. Acho que esse é o novo enfoque do viver cooperado de Brasília. Antes era assim, tudo acontecia de forma cooperativa.
Você acompanha o trabalho dos coletivos culturais?
Pouco. Estou voltando para Brasília agora, depois de alguns anos morando fora, nos Estados Unidos. Estou retomando o contato agora. Esse último ano foi um período de assentamento, de montagem de projetos.
Além do livro, há mais projetos?
Sim. Um trabalho completamente diferente que relata minha experiência com o câncer. Minha companheira morreu com câncer e acompanhei por três anos todo o processo. Como artista, eu me senti obrigado a desenhar o que vivi. Tenho uma série de desenhos e algumas pinturas sobre o tema. Uma mão que descobre o câncer de mama, a quimioterapia e a experiência toda de passar por salas de espera de hospitais americanos, onde os olhos não se cruzam. São mais de 70 desenhos. E, por isso, não entrei na história dos coletivos de Brasília. E tem uma coisa engraçada, eu não fiquei ainda muito à vontade para acompanhar porque é um pessoal muito novo e eu tenho receio de parecer o avô repressor, entendeu? (risos).
Como percebe o ambiente físico da cidade?
A cidade está maravilhosa, cheia de árvores, tem quadras que são jardins. Isso me emociona e eu quero pintar, mas de uma maneira cada vez mais solta. Acho que soltar isso vai me deixar mais perto de Kandinsky do que eu imaginava (risos).
O que é estar perto de Kandinsky?
É não ter a necessidade de explicar o que é o desenho, a pintura formalmente; é ter a liberdade total de usar tanto a linha quanto a cor de uma maneira que crie, por si só, uma representação e seja satisfatória ao artista, no sentido do que aquilo significa e não, necessariamente, ter que explicar.
O que você acha que o novo secretário de Cultura deve fazer?
Tentar criar parâmetros de como agir, porque a gente anda às escuras, trombando pelas paredes.
Onde vê o dinheiro bem aplicado, por exemplo?
Nas mostras do CCBB, por exemplo, há um trabalho de acompanhamento muito interessante. Vi vários grupos de escolas de Santa Maria, Ceilândia, todos com orientação. Vi grupos de velhos, apoiados pelo GDF, sendo conduzidos por exposições no CCBB e no Museu Nacional. Isso é maravilhoso, um trabalho superbenfeito. Tem que encher de gente, mesmo que as pessoas não saibam o sentido daquilo, mas é assim que elas vão aprender. Não tem outro jeito. O que me deixa espantado, às vezes, é a distribuição de pautas e de dinheiro com instituições que nos fazem pensar qual o interesse daquilo? Quem elas representam? O público de Brasília quer tudo o que você puder dar.
Como vê a arte que é produzida hoje em Brasília em relação ao resto do país?
Tem coisas maravilhosas, não fica nada a dever. O que se faz aqui em nível de pesquisa, de representação formal é de altíssimo nível. Brasília sempre foi uma cidade muito forte culturalmente. É uma cidade que tem vínculos com essa questão da produtividade de objetos culturais. Acho que talvez falte um pouco mais de parâmetro e de incentivo. Espero que o Guilherme Reis, o novo secretário de Cultura, esteja atento porque ele sabe disso, ele acompanha essas coisas. Ele foi parceiro do Movimento Cabeças. Muita coisa está sendo feita, mesmo que não diretamente relacionada à cultura
Aos 61 anos, o artista plástico Paulinho Andrade não cansa de buscar desafios. Representante de uma geração que transpirava arte e aprendeu a respingá-la pela cidade — com intervenções culturais, como o Concerto Cabeças —, ele acredita que cultura é necessidade básica, tal qual a água e a comida. Arte, para ele, é uma forma de representar as próprias experiências com o mundo. Não se calou nem mesmo quando perdeu a esposa para o câncer, em 2010. Transformou o sofrimento em série de pinturas e desenhos que pretende expor ainda neste ano. Ao Correio, Paulinho fala sobre essas experiências e sobre os novos tempos de Brasília.
Como descreve sua relação com a cidade?
Estive em Brasília, pela primeira vez, em 1969. Minha família é de Minas, vim do Rio de Janeiro com a família para conhecer a cidade. Mas a sensação não foi muito boa. Foi muito estranho porque estávamos embaixo de uma ditadura militar e a sensação era de que isso aqui era o último fortim do regime que ia cair. Mas havia algo de que eu gostava muito: a Biblioteca da Universidade de Brasília, que ficava aberta 24 horas por dia. Isso era muito bom, porque havia poucos cinemas e eu passei uns 10 dias na biblioteca, adorei. Em 1977, eu fiz uns amigos aqui que foram ao Rio e, como a situação estava ficando muito difícil para mim por lá, decidi vir para Brasília e ficar dentro do último fortim da ditadura. Pensei que aqui eles não iam se preocupar comigo, não iam me encher o saco e eu ficaria quieto (risos). Então, descobri uma cidade completamente diferente daquilo que eu imaginava. Era uma cidade fantástica. Não tinha o mar, mas possuía um céu maravilhoso, onde era possível viajar. A gente viaja no céu de Brasília.
E o que é Brasília para você?
Brasília é a cidade que me deu régua e compasso. Aqui, eu aprendi a ter relação profissional com meu trabalho. Tive grandes prazeres com a cidade em relação aos amigos. A gente faz amigos em Brasília de uma maneira diferente. Não era uma cidade muito grande e isso favorecia muito as relações pessoais. Nunca me senti sozinho aqui. Quando desejo, fico sozinho e Brasília também permite isso. A gente consegue se isolar dentro da cidade de uma maneira muito engraçada porque é possível ficar sozinho no meio do Plano Piloto, não precisa ir para longe.
Essas características da cidade influenciam seu trabalho?
Sim. Meu trabalho é muito influenciado por Brasília. Por exemplo, fiz uma caixa com gravuras, um projeto de um livro, que foi para uma feira de arte internacional de livros de arte no Moma, em Nova York. É um trabalho que fala sobre Brasília, que eu fiz há 30 anos e estou atualizando. Quero publicar 22 gravuras no ano que vem. Estou em busca de patrocínio. São imagens de índios em Brasília…
De onde veio a ideia?
É uma história muito interessante. Eu trabalhava em jornal, morava na 312 Norte, e havia um antropólogo da Funai no quinto andar. Em uma sexta-feira, destas que a gente fica até tarde para fechar o jornal de domingo, abri a porta do elevador e encontrei dois índios, armados de borduna e arco e flecha. Isso é uma síntese de Brasília, a modernidade com esta coisa ancestral, atávica. E os caras não falavam nada, provavelmente não dominavam o português. Perguntei se eles iriam à casa do antropólogo e, pelos olhares, entendi que sim. Fiquei quieto, mas o elevador não se mexeu. Ou eles não sabiam onde era ou não sabiam usar elevador. Apertei o número do andar e a gente seguiu. Foram 20 segundos que fiquei ali observando eles olharem para o infinito da porta do elevador (risos). Foi uma das experiências mais fantásticas que tive em Brasília.
E deu origem a esse trabalho?
Sim, resultou nesse trabalho. Era uma colagem de cartões-postais que eu fazia na época. Brasília era uma cidade vazia e a gente comprava muitos cartões-postais da cidade. E, agora, com essa série de 12 gravuras originais, estou fazendo uma revisão do trabalho porque quero fazer esse livro, como uma homenagem à cidade. Chama-se O eterno retorno — uma leitura de Nietzsche no Planalto Central.
Como se enturmou com os artistas brasilienses?
Quando eu cheguei aqui, em 1977, a gente via a primeira geração de Brasília nascendo e pensando de um jeito completamente diferente. Mesmo com a repressão da ditadura, era diferente nascer e crescer em Brasília porque a gente tinha a capacidade de pensar a cidade em 180°, tudo era muito amplo. Acho que a primeira geração é reflexo disso. Foi quando veio o Concerto Cabeças, por exemplo, do qual participei ativamente. E eu frequentava as oficinas com Wagner Hermuche, Eurico Rocha, Nicolas Behr, Luis Turiba. Foi uma experiência fantástica porque a gente mexia com toda a cidade.
| Paulinho se inspirou em uma experiência para colocar os índios no cenário modernista |
De que maneira?
Começamos com concertos na 311 Sul, no gramado da quadra comercial para os blocos residenciais. Isso atraiu muita gente porque havia uma carência grande e nada acontecia. E vinha gente de Brasília inteira, das cidades-satélites. Era uma coisa maravilhosa porque a gente juntava músicos com formação clássica da UnB e da Escola de Música de Brasília com o pessoal do rock, do jazz, todos os estilos estavam representados. O Concerto Cabeças durou uns três anos e foi magnífico em termos de identificação da cidade por conta da explosão das primeiras gerações de Brasília. A gente chegou a fazer um concerto para 8 mil pessoas, na Concha Acústica do Parque da Cidade, que hoje nem existe mais. Isso foi um grande incentivo para o rock de Brasília.
A identidade da cidade era mais consistente que hoje?
Ela ainda existe, mas foi um pouco apagada pelas invasões a que fomos submetidos nos governos que considero não democráticos, como o do Roriz, por exemplo. Foi uma coisa horrorosa, deixou a cidade sem infraestrutura e sem emprego. Traziam eleitores sem oferecer condições de vida. Isso deturpou muito a cidade. Hoje, a gente tem uma cidade com uma cultura própria, mas, lamentavelmente, tudo o que a gente vê, fora um núcleo que ainda resiste, é de uma indigência cultural muito grande. Uma classe média muito estranha acabou se firmando em Brasília. Contudo, tem coisas muito legais acontecendo na cidade. Uma delas são as hortas comunitárias, que juntam o prazer de produzir alguma coisa que se coma com o prazer da cultura. A proposta é chamar um músico, uma banda para tocar no dia de plantar uma semente. Acho que esse é o novo enfoque do viver cooperado de Brasília. Antes era assim, tudo acontecia de forma cooperativa.
Você acompanha o trabalho dos coletivos culturais?
Pouco. Estou voltando para Brasília agora, depois de alguns anos morando fora, nos Estados Unidos. Estou retomando o contato agora. Esse último ano foi um período de assentamento, de montagem de projetos.
Além do livro, há mais projetos?
Sim. Um trabalho completamente diferente que relata minha experiência com o câncer. Minha companheira morreu com câncer e acompanhei por três anos todo o processo. Como artista, eu me senti obrigado a desenhar o que vivi. Tenho uma série de desenhos e algumas pinturas sobre o tema. Uma mão que descobre o câncer de mama, a quimioterapia e a experiência toda de passar por salas de espera de hospitais americanos, onde os olhos não se cruzam. São mais de 70 desenhos. E, por isso, não entrei na história dos coletivos de Brasília. E tem uma coisa engraçada, eu não fiquei ainda muito à vontade para acompanhar porque é um pessoal muito novo e eu tenho receio de parecer o avô repressor, entendeu? (risos).
Como percebe o ambiente físico da cidade?
A cidade está maravilhosa, cheia de árvores, tem quadras que são jardins. Isso me emociona e eu quero pintar, mas de uma maneira cada vez mais solta. Acho que soltar isso vai me deixar mais perto de Kandinsky do que eu imaginava (risos).
O que é estar perto de Kandinsky?
É não ter a necessidade de explicar o que é o desenho, a pintura formalmente; é ter a liberdade total de usar tanto a linha quanto a cor de uma maneira que crie, por si só, uma representação e seja satisfatória ao artista, no sentido do que aquilo significa e não, necessariamente, ter que explicar.
O que você acha que o novo secretário de Cultura deve fazer?
Tentar criar parâmetros de como agir, porque a gente anda às escuras, trombando pelas paredes.
Onde vê o dinheiro bem aplicado, por exemplo?
Nas mostras do CCBB, por exemplo, há um trabalho de acompanhamento muito interessante. Vi vários grupos de escolas de Santa Maria, Ceilândia, todos com orientação. Vi grupos de velhos, apoiados pelo GDF, sendo conduzidos por exposições no CCBB e no Museu Nacional. Isso é maravilhoso, um trabalho superbenfeito. Tem que encher de gente, mesmo que as pessoas não saibam o sentido daquilo, mas é assim que elas vão aprender. Não tem outro jeito. O que me deixa espantado, às vezes, é a distribuição de pautas e de dinheiro com instituições que nos fazem pensar qual o interesse daquilo? Quem elas representam? O público de Brasília quer tudo o que você puder dar.
Como vê a arte que é produzida hoje em Brasília em relação ao resto do país?
Tem coisas maravilhosas, não fica nada a dever. O que se faz aqui em nível de pesquisa, de representação formal é de altíssimo nível. Brasília sempre foi uma cidade muito forte culturalmente. É uma cidade que tem vínculos com essa questão da produtividade de objetos culturais. Acho que talvez falte um pouco mais de parâmetro e de incentivo. Espero que o Guilherme Reis, o novo secretário de Cultura, esteja atento porque ele sabe disso, ele acompanha essas coisas. Ele foi parceiro do Movimento Cabeças. Muita coisa está sendo feita, mesmo que não diretamente relacionada à cultura