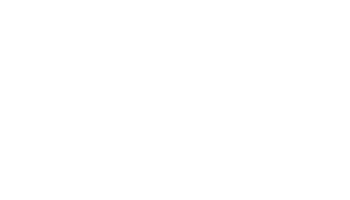Durante quatro dias, o povo indígena fez bater o coração
da Terra
Crônicas
urbanas, crônicas de afeto e do viver (Conceição Freitas)
Tuxaua é uma palavra que ouço desde menina. Minha mãe diz que o avô dela
era tuxaua em uma aldeia de Parintins. Nunca pude conferir se era isso mesmo
porque a família dela, embora seja nitidamente descendente de índio,
ignora/despreza/se recusa a buscar informações sobre seus ancestrais. Moram em
um bairro popular de Manaus, vivem modestamente e sempre me olham com
estranheza quando tento saber de onde veio a minha avó materna. (Tuxaua tem
sentidos diferentes para cada povo indígena, mas em geral significa cacique,
líder).
Dona Tomásia morreu com pouco mais de 30 anos, possivelmente de
tuberculose. Não há fotos dela. Talvez nunca tenha sido fotografada na pobreza
em que vivia. (Meu avô, negro, era furador de chão para as tubulações de água e
esgoto de Manaus). Minha mãe diz que a mãe dela tinha os dois dentes da frente
serrados em forma de triângulo, mas nem isso consegui conferir.
Na quinta-feira passada (25/04/2019), às
cegas, cheguei ao ATL, como os índios chamam o Acampamento Terra Livre,
montado pela 15ª vez na Esplanada dos Ministérios. Desta vez, eles foram
obrigados a deixar o canteiro central para ocuparem o Setor Cultural Norte,
aquele vazio vermelho que fica ao lado do Teatro Nacional.
Havia
muito com o que se surpreender: os adereços, o artesanato, as pinturas nos
corpos, as miçangas intensamente coloridas, os cabelos negros e longos das
índias, os cocares dos caciques, a dança e o canto dos índios, as diferentes
etnias indígenas, mas nada disso me tocou mais do que o som que saía da Terra
quando eles batiam no chão o pé descalço (ou de chinelo de dedo). Uma
ressonância funda e cálida, como um tambor que faz a marcação no samba, como a
batida de um coração.
Índio
nunca deixa de ser índio como passarinho nunca deixa de ser passarinho e
minhoca nunca deixa de ser minhoca. Nem 519 anos de atrocidades lhes tiraram a
alma. A alma parece ocupar o lado de fora do corpo de um índio. Mesmo os mais
adaptados à cidade, mesmo eles têm uma soberana identidade incorpórea no jeito
de sentir, ver, escutar e pensar o mundo, onde o mundo pode ser pensado.
Aos
brasileiros perdidos de si mesmo que somos, índios de dezenas de etnias nos
ofereceram três dias de gestos de boa-vontade. Como se nos dissessem: venham
aprender a ser humano de novo.
Índio não
é tudo a mesma coisa. Cada povo é como se fosse uma nação. Mas eles se tratam
como “parentes”, atados em laços de ancestral ocupação do território que
milênios depois viria a se chamar Brasil. Por extensão, e afetiva generosidade,
os índios chamavam de parentes os muitos não-índios, brasilienses, brasileiros
e estrangeiros, que estiveram no acampamento, uma algaravia de barracas,
quiosques de comida, camelódromo, rodas de conversa, palco de palestras,
circuito de dança.
Um
estranha força emanava da voz e dos gestos dos líderes indígenas que subiam ao
palco. Núbia Tupinambá pegou o microfone para defender a educação indígena
diferenciada. “A educação do nosso povo vem da raiz dos nossos ancestrais, dos
nossos encantados. Tem de ser comunitária, bilíngue”.
Núbia
Batista da Silva é mestre em linguística pela UnB, mas há nela um mistério
encantador que, nem de longe, vem do título universitário. Vem de um lugar que
nós, não-índios, perdemos faz tempo.
Nós, os
não-índios, ficamos em volta dos índios como insetos ao redor da chama de uma
vela acesa no escuro (tirei essa imagem de um texto sobre índios, não me lembro
onde). A inseta aqui saiu do Setor Cultural Norte, margeou o triste e
abandonado Teatro Nacional e sentiu que não está sozinha. Escurecia e ela se
deixou levar pelo canto ritmado e forte dos índios, como se a música saísse de
dentro da Terra.
Por
Conceição Freitas – Fotos: Igo Estrela – Daniel Ferreira - Metrópoles
Tags
ÁGUA E MEIO AMBIENTE