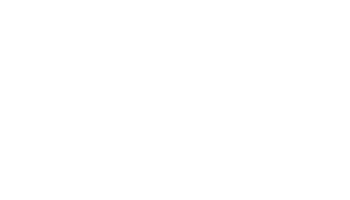Cristianne Antunes, 45 anos,
nasceu no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. É a segunda filha do militar da
aeronáutica Jurandir Oliveira Antunes, 75 anos, e da professora de educação
infantil Sueli da Silva Antunes, 69. O casal mudou-se para o Distrito Federal
quando a tenente-coronel tinha apenas quatro meses, acompanhado, também, do
filho mais velho, o tenente-coronel da Polícia Militar do DF Marcus Vinicius,
47. Em solo candango, tiveram a terceira filha, a advogada Adriana, 40.
A família chegou à capital do país em 1975, após Jurandir ser transferido pela
Aeronáutica. Moraram em diferentes imóveis na Asa Sul e Cristianne cresceu com
condição financeira confortável. “Meus pais priorizavam os estudos e tive
acesso às melhores escolas. Mas, foi nesses ambientes que me vi como a única
negra da turma, por exemplo. Então, desde muito nova, tive a dimensão da
representatividade negra em todos os ambientes, inclusive, os de maior
privilégio”, afirma.
A tenente-coronel destaca que entende como seu papel de levar a discussão sobre
o preconceito racial para ambientes que não se voltam tanto a esses assuntos.
“A questão de ter tido uma vida confortável não tirou de mim a consciência
quanto à importância da representatividade negra em todas as camadas sociais.
Em diversos ambientes, nós vemos e ouvimos expressões discriminatórias que são
normalizadas. Não podemos aceitar e deixar isso passar. Não basta não ser
racista, tem de ser antirracista”, acrescenta a militar.
A autoconsciência como mulher negra ocorreu graças à instrução da mãe. “Desde
nova, minha mãe me explicou sobre os desafios das questões de raça e gênero,
pois a mulher negra é predestinada a esses dois desafios. Então, sempre fui
incentivada a estudar, a ter minha independência financeira e a conquistar o
meu espaço no mundo. Recorrentemente, minha mãe dizia: ‘Filha, as pessoas vão
te olhar como se você não tivesse capacidade por ser negra, mas isso não é
verdade. É preciso buscar tudo o que se sonha’”, relembra.
E foi com o incentivo no seio familiar que Cristianne fez a prova que mudou sua
vida: o concurso dos bombeiros, em 1994. Já dentro do Corpo de Bombeiros, a
tenente-coronel não desistiu do sonho de se formar em direito. Ela ingressou no
curso pelo UniCeub, no mesmo ano, e conseguiu o diploma em 2000. Também estudou
engenharia de segurança contra incêndio, por meio de formação de oficiais da
corporação.
Como profissional, Cristianne conseguiu destaque dentro dos bombeiros, mas,
também, foi cedida a cargos de chefia no governo federal. “Para mim, é tudo
sobre representatividade. Os negros precisam se ver em cargos de chefia e,
assim, enxergarem que também podem estar ali. E, para mim, o Corpo de Bombeiros
é uma instituição que preza por essa representatividade”, frisa.
A militar ensina aos filhos, de 14 e 10 anos, sobre a questão racial. “Não
deixo nenhum episódio que os façam sentir desconfortáveis passar batido”,
sinaliza. Na avaliação dela, o principal caminho para a ascensão dos negros
socialmente é o acesso à educação de qualidade. “As crianças e adolescentes
precisam se ver representadas em todos os ambientes, mas, também, precisam ter
um estudo de excelência, para que as portas possam se abrir. Eu tive privilégio
em ter a estrada asfaltada pelo esforço do meu pai, porém são poucos com essa
realidade”, reflete.
HISTÓRIAS DE CONSCIÊNCIA »
Representatividade no Corpo de BombeirosNa última reportagem da série sobre
negros nas forças de Segurança do Distrito Federal, o Correio reúne histórias
de superação e de orgulho daqueles que integram uma das corporações mais
tradicionais da cidade
Um olhar carrega muitos
significados. Amor, carinho, admiração. Mas, também, pode refletir um
preconceito centenário, fruto de racismo estrutural. A discriminação pode ser
silenciosa, mas ensurdece aqueles que a sofrem. Estudo da Companhia de
Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), com dados coletados pela Pesquisa
Distrital por Amostra de Domicílios de 2018 (Pdad), mostra os reflexos desse
cenário na distribuição de renda: 69,9% da população das regiões administrativas
de baixa renda do Distrito Federal é preta.
Tula Andrelina precisou encarar o racismo e a privação financeira da família
para se tornar a primeira a se formar no ensino superior, ser pós-graduada e
concursada. Por outro lado, Cristianne estudou nas melhores escolas do Distrito
Federal, mas teve de encarar pressões sociais por ser a única mulher negra em
diversos ambientes. Já Bárbara cresceu em um dos bairros mais nobres da
capital, mas, por integrar uma família de 11 pessoas, cresceu sem conforto
financeiro. Marcus viveu em Ceilândia e, desde novo, precisou trabalhar para
auxiliar na renda familiar.
As quatro histórias têm em comum a luta para a ascensão social e o sonho de
integrar o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Os anos de esforço foram
recompensados com a aprovação em concurso público e, atualmente, eles são
quatro dos 425 pretos da corporação. O número representa 3,9% dos mais de 10,7
mil servidores ativos e inativos. Cristianne, Tula, Bárbara e Marcus contam as
trajetórias de vida na última reportagem sobre integrantes da Segurança Pública
do DF para o especial Histórias da Consciência.
Autodeclaração de cor entre militares do CBMDF: Não
declararam: 3.850 (35,7%) • Pardos: 3.292 (30,5%) • Brancos: 1.798
(16,6%) • Amarelos: 1.383 (12,8%) • Pretos: 425 (3,9%)
• Indígenas: 19 (0,1%) • Total de
Militares: 10.767 • Fonte: DITIC/CBMDF.
Orgulho da farda. Bárbara Sabrine Barros de Oliveira, capitã, 32 anos. Bárbara Sabrine, 32 anos, é um dos cinco filhos do militar da Aeronáutica José Roberto de Oliveira, 60 anos, e da professora de História Rosenilde Barros de Oliveira, 57. A capitã nasceu na Tijuca, mas viveu até os 7 anos em São Cristóvão, ambos bairros no Rio de Janeiro, antes de se instalar com a família na Octogonal, em um prédio funcional da Força Aérea, em 1995.
Na capital federal, as memórias de Bárbara foram marcadas pelo preconceito
racial. Apesar de ser uma menina simpática, extrovertida e de sorriso fácil,
era proibida pelas mães das amigas de frequentar as casas delas. “Naquela
época, eu não tinha consciência do porquê. Não dava motivos para essa
segregação, pois não era mal-educada. Só depois de adulta é que percebi que o
motivo poderia ser o meu tom de pele e a questão social”, analisa.
A diferenciação sofrida na infância e na adolescência também ocorreu por conta
da condição financeira da família. “Embora meu pai fosse militar e ganhasse
razoavelmente bem, éramos nove crianças. Não passamos dificuldades, mas,
diferentemente de todos os meus vizinhos e amigos, estudava em colégios
públicos. Meus colegas iam às escolas de transporte particular e eu, de
ônibus”, conta.
Os reflexos do preconceito também atingiram a identidade da capitã como mulher
negra. Desde os 10 anos, aderiu a procedimentos estéticos de alisamento capilar.
“Eu achava meus traços e meu cabelo feios. Alisar as mechas também teve
influência sobre como eu me enxergava no mundo.”
Por conta da condição racial e financeira, a capitã sentiu-se desmotivada a
concorrer a uma vaga na Universidade de Brasília (UnB), para o curso de
química. “Tive de escutar que não seria capaz e que nunca estudaria lá”,
relata. “Acontece que passei, sim, por cotas, em 2007”, relata. No último ano
do curso, em 2011, uma amiga de Bárbara a incentivou a realizar o concurso para
os Bombeiros. Sem muita expectativa, a capitã estudou para a prova e foi pega
de surpresa ao ser aprovada.
E foi por meio dos estudos, assim como com o contato com o candomblé — religião
afro-brasileira — que Bárbara passou a encontrar a própria identidade. “A
transição capilar transformou a minha vida. Eu parei de alisar o cabelo, e
cortei curtinho. Nesse momento, enxerguei o quanto meu caminho tinha sido
guiado por padrões eurocentristas, e que eu não deveria ter vergonha das minhas
origens”, analisa.
Ao buscar a própria linhagem racial, a capitã encontrou a casa Ilê Odé Axé Opô
Inle, em Planaltina. “Minha mãe é feita no santo (iniciação de um seguidor do
candomblé no culto aos orixás). Entretanto, eu vivia uma dualidade: nas ruas, a
religião era tratada como algo ruim, mas, na minha casa, não. Há cerca de
quatro anos, minha mãe e minha irmã mais novas me chamaram para ir a uma festa
(termo utilizado para o encontro religioso no candomblé), e eu concordei.
Naquele dia, senti algo especial, que vinha de dentro de mim. Ali, eu me
encontrei”, diz, emocionada.
A capitã Bárbara descreve a própria trajetória como um orgulho para a família e
para ela mesma. “Quando visto minha farda, eu me vejo como uma mulher negra em
uma posição de oficial que pode levar esperança a tantas crianças e
adolescentes vulneráveis ,que veem a minha atuação nas ruas. Por mais que eu
não saia gritando pela luta racial, para mim, esse é o modo que eu encontrei de
representar o meu povo”, finaliza.
Sarah Peres - Fotos: Marcelo
Ferreira/CB/D.A.Press - Correio Braziliense