O que antes era murmúrio de rua, agora se converte em transmissões ao vivo, publicações virais e denúncias compartilhadas em escala massiva. As ferramentas digitais concederam ao cidadão comum a possibilidade de atravessar o abismo histórico entre governantes e governados, realizando uma travessia que não depende mais da mediação de jornais, partidos ou lideranças tradicionais.
Talvez não se imaginasse que a chegada das tecnologias digitais de comunicação, sobretudo as redes sociais alimentadas pela internet e pela expansão das chamadas big techs, não alteraria a rotina da política nacional, que até então caminhava em ritmo lento, quase protocolar, como se seguisse uma partitura herdada do século passado. A rede transformou em protagonistas aqueles que antes ocupavam apenas a plateia do espetáculo político. De repente, multidões até então invisíveis puderam atravessar, ainda que virtualmente, as barreiras simbólicas que mantinham intocados os espaços nobres do poder, inundando com sua presença os corredores que se julgavam exclusivos e intocáveis.
Esse movimento, longe de ser mero acidente, é consequência natural do caráter expansivo da comunicação em tempo real: quanto maior a opacidade das decisões, mais irresistível se torna o impulso coletivo de investigar, questionar e expor o que permanece guardado. Se antes a curiosidade popular se restringia às esquinas, janelas e portas entreabertas, hoje encontra recursos muito mais poderosos para observar o cotidiano das elites políticas.
A reação institucional, previsível, veio carregada de desconforto e de justificativas solenes: incomodados com a entrada súbita e desordenada das massas digitais nos domínios do Estado, os detentores do poder passaram a tratar esse movimento como ameaça. O esforço de contenção se traduziu em propostas legislativas, em normas regulatórias e em discursos que evocam a necessidade de proteger a democracia de perigos difusos. As fakenews e os chamados discursos de ódio, problemas reais, mas complexos, surgem nesse cenário mais como pretextos do que como causas; funcionam como máscaras discursivas para justificar medidas cujo objetivo último é restringir a circulação de informações e restaurar a distância confortável entre a população e os núcleos de decisão.
É nesse contexto que se inscreve a discussão em torno do Projeto de Lei 2630, apresentado como marco regulatório das redes sociais e, na prática, transformado em campo de batalha sobre os limites da participação popular. O debate formal se concentra nos aspectos técnicos, mas o que está em jogo é algo mais profundo: trata-se de decidir se os cidadãos terão ou não o direito de atravessar o mar simbólico que separa dois territórios. De um lado, a sociedade, ruidosa, desigual e impaciente; de outro, os palácios, espaços onde o poder se protege e se perpetua. Não é casual que a presença das massas nesses ambientes seja lida como ameaça. Desde a formação da República, elites políticas e econômicas empregam mecanismos legais e informais para resguardar privilégios e neutralizar qualquer forma de intromissão popular.
A insistência em justificar restrições à participação digital em nome da ordem, da segurança ou do combate à desinformação revela, mais do que zelo democrático, uma dificuldade histórica de conviver com a transparência. Ao bloquear a entrada do povo nos bastidores do poder, o que se preserva não é a qualidade da informação, mas a estabilidade de um arranjo que depende justamente da distância entre governantes e governados. O incômodo que a multidão causa não reside em sua desorganização ou em sua linguagem rude, mas no simples fato de existir e se fazer presente em um espaço que, por décadas, pretendeu ser reservado a poucos.
Em última instância, o que se desenha diante dos olhos é uma coreografia de distrações, cuidadosamente elaborada para transferir a responsabilidade da crise. Aponta-se a tecnologia como culpada, quando, na verdade, o verdadeiro problema é a incapacidade das elites de aceitar que o monopólio da informação e da narrativa se rompeu. Demonizam-se as redes sociais não porque falham, mas porque cumprem, ainda que de modo imperfeito, a função de colocar o povo em contato direto com os bastidores do poder. É mais fácil responsabilizar o meio do que admitir a fragilidade de um sistema político que se sustenta no silêncio, nas estratégias veladas e na exclusão.

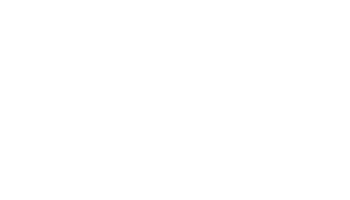



.jpg)
