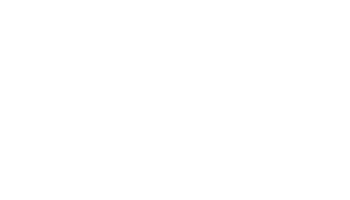Um alerta de especialistas converte-se em uma realidade cada vez mais palpável, perceptível e devastadora, que se antecipa aos prognósticos mais conservadores do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Já não se trata de um fenômeno que espreita o futuro em um horizonte nebuloso, mas de uma alteração radical no equilíbrio planetário, ocasionada, sobretudo, pelo modelo econômico adotado pelo homem moderno, cuja lógica de expansão ilimitada exige a exaustão sistemática dos recursos naturais, e que, por essa via, não apenas se instalou entre nós, como ameaça a intensificar-se de modo exponencial ao longo das próximas décadas, arrastando consigo as condições mínimas de sobrevivência para os mais de oito bilhões de seres humanos que hoje habitam a Terra, numa trajetória que poderá repetir, em escala grandiosa, o mesmo destino já reservado a incontáveis espécies de plantas e animais que desapareceram deixando rastros por onde viveram.
Silenciar qualquer ceticismo é simples e brutal quando se verificam os dados: segundo o relatório de 2023 do IPCC, a temperatura média global já se encontra 1,2 °C acima dos níveis pré-industriais, e caso o atual ritmo de emissões seja mantido, em menos de vinte anos, ultrapassaremos o limite de 1,5 °C, aquele mesmo que, em Paris, chefes de Estado prometeram solenemente não transgredir. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) reforça que os últimos nove anos foram os mais quentes da história desde o início das medições, e que 2024 registrou picos inéditos em ondas de calor, incêndios florestais e eventos extremos, com prejuízos econômicos calculados em trilhões de dólares.
Mas, apesar do caráter alarmante desses números, a reação das lideranças políticas globais segue marcada por uma espécie de alienamento voluntário, um transe coletivo que as mantém entretidas em velhas obsessões, guerras territoriais, corrida armamentista, prospecção desenfreada de minérios, expansão de fronteiras agrícolas sobre ecossistemas frágeis, como se fosse possível postergar indefinidamente o confronto com a realidade climática.
Ironicamente, o que atinge o grau do surrealismo é quando se observa que, em escala planetária, apenas um punhado de países demonstra compromisso concreto com políticas de mitigação, enquanto a maioria age como se os relatórios científicos não passassem de ficções exageradas produzidas por um seleto grupo de ambientalistas. Tal comportamento, repetido ano após ano, leva-nos a um ponto de obviedade: ao insistirmos nesse caminho, o destino parece selado, e com ele se encerra não apenas um ciclo histórico, mas a própria possibilidade de futuro.
No Brasil, o retrato não destoa desse quadro sombrio. Depois das centenas de milhares de focos de incêndio registrados entre 2020 e 2024, que devastaram áreas imensas da Amazônia e do Cerrado, e após enchentes que varreram cidades inteiras do Sul e do Sudeste, ceifando vidas e deixando milhares de famílias desabrigadas, as autoridades resolveram, tardiamente, sair de sua confortável toca refrigerada para ensaiar gestos espetaculosos em defesa do meio ambiente. Surgiu, nesse cenário, a chamada “Autoridade Climática”, instância burocrática destinada a coordenar estratégias do chamado Plano Nacional de Enfrentamento aos Riscos Climáticos Extremos. Entretanto, como em tantas outras experiências brasileiras, a pompa do anúncio não corresponde ao vigor da prática: enquanto se redigem protocolos, o governo avança em frentes que contradizem a própria narrativa ambiental, como a autorização da exploração de petróleo na foz do Amazonas e o asfaltamento da BR-319, projeto que ameaça uma das áreas mais sensíveis e preservadas da floresta.
No campo da mineração e da agricultura, a contradição se aprofunda, onde o Brasil se mantém refém de interesses externos e de elites internas que se comportam como herdeiras fiéis da lógica colonial. Grandes corporações estrangeiras, pouco ou nada comprometidas com a preservação dos ecossistemas, seguem explorando jazidas estratégicas, deixando, atrás de si, crateras estéreis, cursos d’água contaminados e comunidades inteiras condenadas a conviver com resíduos tóxicos.
No mesmo movimento, a monocultura de exportação, assentada sobre imensos latifúndios e dependente de insumos químicos, avança sobre áreas desmatadas, reproduzindo um ciclo iniciado ainda no século XVI, quando a terra brasileira foi, pela primeira vez, incorporada à lógica mercantil de exploração. O resultado é conhecido, mas nunca verdadeiramente enfrentado: esgotamento do solo, expulsão de populações tradicionais, concentração fundiária e dependência estrutural das commodities, que nos mantêm atrelados a um modelo de desenvolvimento predatório.
Trata-se, em termos práticos, de uma política deliberada de envenenamento: ao priorizar ganhos imediatos na balança comercial, aceitamos comprometer a qualidade da água, dos alimentos e da saúde da população.