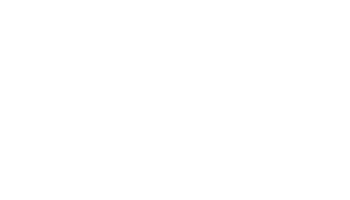O que escreveram os dois Joões, o Rosa e o Cabral,
sobre Brasília. Os dois diplomatas visitaram a capital em construção e, entre o
encanto e a desilusão, perceberam que a utopia nascia na contradição. (*Por Conceição Freitas)
Dois Joões, diplomatas, literatos, deixaram poemas,
carta e conto sobre a nova capital que viram nascer. João Guimarães Rosa
(1908-1967) e João Cabral de Melo Neto (1920-1999) navegaram entre o encanto
por tão belo feito brasileiro, uma nova capital construída pelo gênio moderno,
e as contradições da utopia.
O mais velho dos Joões, o Rosa, visitou as obras da
nova capital pelo menos duas vezes: em janeiro e em junho de 1958. Em carta aos
pais, ele contou a aventura de ser candango por uns dias:
“No começo de junho, estive em
Brasília, pela segunda vez, lá passei uns dias. O clima, na nova capital, é
simplesmente maravilhoso, tanto no inverno quanto no verão. E os trabalhos de
construção se adiantam, num ritmo e entusiasmo inacreditáveis: parece coisa de
russos ou de norte-americanos. Desta vez, não vi tantos bichos e aves, como da
outra, em janeiro passado — quando as perdizes saíam assustadas, quase de
debaixo da gente, e iam retas no ar, em voo baixo, como bolas peludas,
bulhentas, frementes, e viam-se os jacus fugindo no meio do mato, com
estardalhaço; também veados, seriemas, e tudo. Mas eu acordava cada manhã para
assistir ao nascer do sol, e ver um enorme tucano, colorido, belíssimo, que
vinha, pelo relógio, às 6 hs.15’, comer frutinhas, durante dez minutos, na copa
alta de uma árvore pegada à casa, uma “tucaneira”, como por lá dizem. As
chegadas e saídas desse tucano foram uma das cenas mais bonitas inesquecíveis
da minha vida”. Guimarães Rosa
Três anos depois, Rosa escreveu um conto, As
margens da alegria, publicado no jornal O Globo, edição de 1º de julho de 1961.
O narrador conta as percepções de um menino numa viagem “inventada no feliz”. Tudo
é encanto, desde “as nuvens de amontoada amabilidade” que vê da janelinha do
avião. “O menino fremia no acorçoo, alegre de se rir para si, confortavelzinho,
com um jeito de folha a cair”.
Quando o voo findava, o menino viu Brasília. “A
grande cidade apenas começava a fazer-se, num semi-ermo, no chapadão: a mágica
monotonia, os diluídos ares”.
O pequeno visitante foi levado à Granja do Ipê
(onde morou Israel Pinheiro, entre o Núcleo Bandeirante e o Riacho Fundo).
Anotou intimamente tudo o que via — a poeira, o veado campeiro, a canela de
ema, a siriema, o buriti e “essa paisagem de muita largura, que o sol grande
alargava”.
O menino seguia vendo todas as coisas pela primeira
vez: “Sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécie sonhosa, bebida,
em novos aumentos de amor. E em sua memória ficavam, no perfeito puro, castelos
já armados. Tudo, para a seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro
estranho e desconhecido”.
No almoço, o menino ouvia o tio, a tia, os
engenheiros. “Esta grande cidade ia ser a mais levantada do mundo”. Na
sobremesa, marmelada “da terra, que se cortava bonita, o perfume em açúcar e
carne de flor”. O menino provava do doce até hoje feito pelos negros do
Quilombo Mesquita, a 40 km do Plano Piloto.
O menino que Rosa inventou percebeu que em Brasília
tudo morria muito rapidamente para que tudo nascesse na mesma velocidade: “Tudo
perdia a eternidade e a certeza; num lufo, num átimo, da gente as mais belas
coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de repente? Soubesse que ia
acontecer assim, ao menos teria olhado mais o peru aquele. O peru-seu
desaparecer no espaço. Só no grão nulo de um minuto, o menino recebia em si um
miligrama de morte.
Já o buscavam: — “Vamos aonde a grande cidade vai
ser, o lago…”
Encantado com o cerrado, triste com a morte de um
peru na casa onde estava hospedado, o menino percebe a destruição da paisagem
original e da vida que nela havia:
“Mal podia com o que agora lhe mostravam, na
circuntristeza: o um horizonte, homens no trabalho de terraplenagem, os
caminhões de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o
velame-do-campo apenas uma planta desbotada, o encantamento morto e sem
pássaros, o ar cheio de poeira. Sua fadiga, de impedida emoção, formava um medo
secreto: descobria o possível de outras adversidades, no mundo maquinal, no
hostil espaço; e que entre o contentamento e a desilusão, na balança
infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava a cabecinha.”
O outro João, o Cabral, também deitou no branco
palavras encantadas sobre a nova capital. Deixou cinco poemas inspirados na
nova capital, sem contar outros sobre o engenheiro e poeta Joaquim Cardozo e
sobre arquitetura. No poema “Mesma mineira em Brasília”, ele revela os dois
Brasis de uma mesma cidade:
“No cimento duro, de aço e de
cimento,
Brasília enxertou-se, e guarda
vivo,
esse poroso quase carnal de
alvenaria
da casa de fazenda do Brasil
antigo”.
O Brasil colonial, das casas grandes, se
transformava em Brasil moderno sem perder o pé da arquitetura dos tempos
escravocratas. Um país que se moderniza, mas não se despreende do traço
original de sua formação. Como se Brasília fosse uma pessoa que leva consigo toda
a carga do vivido e, mesmo que tente se libertar com uma nova arquitetura de
vida, estará sempre presa à sua arquitetura vernacular. Uma utopia contaminada
de passado.
Ou, no dizer poético do professor Roniere Menezes,
da Universidade Federal de Minas Gerais, “uma esperança desconfiada” dos dois
Joões diante do espanto-Brasília.
(*) Conceição Freitas - Metrópoles
Tags
CRÔNICA