A negra Iaiá e a boneca de pano
Mora na minha cabeceira uma boneca
de pano. Tem a idade do antigamente. Quem a criou foi a negra Iaiá, de Goiás
Velho. Ninguém entende por que bibelô tão pálido, de tecido desbotado, cosido
com pontos rudes de linhas toscas, cabelos retorcidos como dreads,
sobrancelhas, boca e nariz riscados a carvão, ninguém entende por que ela ocupa
lugar tão nobre ao lado do meu dormir.
Cobicei a boneca de pano numa ida à
Cidade de Goiás em 2005. Andarilhava por uma rua distante do centro histórico,
quando vi uma senhorinha negra sentada numa cadeira tão velha quanto ela, na
varanda de terra batida de uma casa torta e esquecida. Pedi licença pra entrar
na morada daquela mulher tão antiga quanto a memória da escravidão. Pelo modo
como se levantou e caminhou até a porta, percebi que ela enxergava muito pouco.
A dona da casa disse que tinha mais de 90 anos, não sabia ao certo. Morava
sozinha.
Fiquei diante de um sofá puído e
esburacado, de uma mesa de madeira, de uma prateleira com a imagem de uma santa
(já não me lembro qual) e diante da bonequinha de pano que, por falta de
pernas, sustentava o corpo num copo de massa de tomate. O copo estufava a roda
da saia da boneca de pele branca. Sem prurido, pedi à senhorinha o brinquedo de
pano. Por alguma razão, eu precisava daquela boneca. Ela me dizia coisas
fundantes porém indecifráveis.
Faz 17 anos que a boneca de pano
vigia o meu sono. Antes azul, bem antes mesmo, a roupa da formosa está quase
branca, esmaecida, diáfana (mas os lábios de linha continuam rosados como
antes). Sempre altiva, com sua lonjura calma, quase sempre com leve sorriso de
quem está vendo tudo. Ela é a anunciação de alguma coisa que faz todo sentido
pra mim.
Minha boneca de pano foi feita com
os escassos recursos de quem vivia à margem das coisas compradas prontas, de
quem aproveitava roupas rasgadas para costurar bonecas de cabelos longos e laço
rosa na cintura. De vez em quando a doçura me pede um banho, agora mesmo caiu
uma gota de parafina da última vela que acendi, mas temo que a princesa se
dissolva na água e sabão.
Iaiá me contou, naquela visita de
quase 20 anos atrás, que foi criada pelos patrões para servir de empregada
doméstica, sem salário, sem direitos trabalhistas — escravizada pelo Brasil
moderno numa cidade do Brasil antigo. Já sem forças para o trabalho, Iaiá
recebeu de um filho do patrão o direito de morar na casinha de adobe nos
arredores da cidade tombada como patrimônio da humanidade.
A boneca a quem Iaiá deu o nome de
Jurema é meu fio imemorial com a sabedoria silenciosa das mulheres escravizadas.
A bonequinha que vela meu dormir,
meu acordar e meu existir me conta coisas esquecidas de mim mesma. De que eu
não começo nem termino no meu agora, que a tecnologia é sedutora mas vazia como
boneca de plástico, que os pontos feitos à mão são bordados da artista quase
cega, que alguém inventou uma boneca a partir de quase nada e cuidou da
preciosa até que eu precisei tanto dela que Iaiá me deu Jurema pra mim.
P.S. Uma primeira versão dessa
crônica foi publicada em 4 de março de 2012. Dez anos depois, a boneca que
parecia quase morta de tão velha e puída continua na minha cabeceira. Ela sorri
quando eu sorrio, me olha fundo quando procuro profundezas, evita meu olhar
quando eu pressinto que pisei na bola. E às vezes salta misteriosamente do copo
de massa de tomate que lhe serve de corpo.
Quando me despedi de Iaiá, ela me
disse pra eu nunca mais esquecê-la. Nunca mais, Iaiá. Sempre que um querido ou
uma querida está em algum apuro grande ou eu mesma preciso de proteção e
quentura, acendo uma vela pra Iaiá. É Jurema, mas é Iaiá.
Conceição Freitas – Correio Braziliense

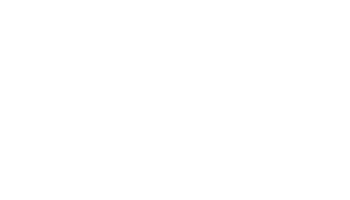


.jpg)

