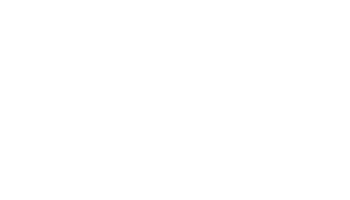Por 28 anos, Bolsonaro foi um deputado do baixo clero,
praticamente desconhecido em nível nacional. Os eventos que ampliaram sua
notoriedade foram o programa CQC e a discussão com Maria do
Rosário.
A crise econômica, as pedaladas fiscais de Dilma e a
Operação Lava Jato alimentaram o sentimento antipetista. Bolsonaro surfou essa
onda. No início, o voto nele era mais um voto de rejeição — “contra tudo que
está aí”.
Num país que, à época, registrava quase 70 mil
homicídios por ano, ninguém nos debates presidenciais falava de segurança
pública, porque havia complacência. O primeiro a fazê-lo foi Bolsonaro.
Veio a campanha eleitoral. Inicialmente, diziam que
não era “uma candidatura séria”; depois, que “tinha um teto”. Nas entrevistas,
mais do que questionar suas propostas, insistiam em sua opinião sobre a
ditadura militar. Quando suas chances de vitória ficaram mais evidentes, veio a
tentativa de homicídio. A facada o levou a outro patamar. A percepção foi de
que os “poderes fortes” não o queriam, e isso gerou empatia. “O que não te
mata, te fortalece.” Bateram tanto nele que, mesmo sem participar dos debates
de TV, passou a ser o centro das atenções. Tornou-se o protagonista
indiscutível e venceu.
Em 2018, já escrevi que quem elegeu Bolsonaro foram os
que chamavam seus apoiadores de fascistas; foram as pedaladas fiscais; foi a
cuspida de Jean Wyllys; foram as manifestações de MST, MTST e black
blocs, que queimaram pneus, urinaram em vias públicas e depredaram símbolos
nacionais ou imagens de Bolsonaro; foram os que chamavam Sérgio Moro de agente
da CIA; foi a “boa cova” de Mauro Iasi; foram os que aparelharam o Estado,
dividiram o povo entre “nós” e “eles”, colocaram um “poste” na Presidência
(Dilma), gritaram “é golpe!” e tentaram pôr outro “poste” (Fernando Haddad).
Foram a esquerda radical e o sistema juntos.
Durante seu governo, enfrentou oposição de todas as
formas. Entre 2019 e 2020, o STF decidiu contra o Executivo 123 vezes. Por
exemplo: quando autorizou União, Estados e Municípios a obrigarem a vacinação
contra a COVID-19; quando pediu explicações sobre o decreto das armas; e quando
anulou o indulto a Daniel Silveira. Na pandemia, de fascista e nazista passou a
ser chamado de genocida.
Depois do mandato, piorou. Chegou a responder a quase
600 processos. Foi acusado de criticar as urnas eletrônicas diante de
embaixadores e até de importunar uma baleia — processo arquivado, mas que
serviu para descredibilizar qualquer ação judicial contra ele.
E veio a maior injustiça: o processo do golpe. Mudaram
a regra do foro privilegiado para julgá-lo no STF mesmo sem cargo; colocaram o
caso na 1ª Turma, e não no Plenário; escolheram o relator sem sorteio; usaram
delações de Mauro Cid mesmo com diversas contradições; atribuíram-lhe tentativa
de golpe e subversão da ordem democrática, que são a mesma coisa; o processo
tramitou numa velocidade inédita; apresentaram 70 terabytes de supostas provas
(equivalentes a 35 a 460 milhões de livros) na última hora; julgaram-no por uma
minuta cuja íntegra não existe, apresentada em reunião da qual não participou e
que jamais foi posta em prática.
Como se não bastasse, quatro dos cinco juízes são
claros inimigos políticos dele. Depois dos nazistas em Nuremberg, Bolsonaro
seria o segundo caso de alguém julgado por seus próprios inimigos. Além disso,
é o único processo em que a vítima é, ao mesmo tempo, investigadora, acusadora
e julgadora.
Uma injustiça tão flagrante que supera qualquer crime
que possa ter cometido. Não tenho simpatia por Bolsonaro, mas mesmo que tivesse
cometido homicídio, regicídio, genocídio ou pedofilia, não poderia ser julgado
dessa forma. Nem ele, nem ninguém.
Se sua vida política terminar aqui, será lembrado por
essa grande injustiça final. Será visto como um mártir. E quem está construindo
essa figura potente não são seus apoiadores, mas seus algozes. Quando for
lembrado como mártir, agradeçam a eles. Não derrotaram o bolsonarismo. Muito pelo contrário.